Introdução
O colonialismo de dados emerge como uma lente crítica para analisar as dinâmicas de poder subjacentes à onipresença da tecnologia digital em nossas vidas. Longe de ser um campo neutro de intercâmbio, o espaço digital tornou-se um território de extração intensiva, onde dados pessoais e comportamentais são sistematicamente coletados em escala massiva por um número concentrado de corporações globais e atores estatais.
Este fenômeno, como argumentam Nick Couldry e Ulises A. Mejias (2019), não é meramente uma questão técnica, mas uma nova fase histórica que reproduz e atualiza as lógicas espoliativas do colonialismo histórico. A “matéria-prima” desta era, como aponta o sociólogo Marcelo Buz (2020), são “os dados dos usuários da internet, especialmente os pessoais”, transformando a própria experiência humana em um recurso a ser explorado (Buz, 2020).
Essa transformação é impulsionada pelo que Shoshana Zuboff (2019) denominou “capitalismo de vigilância”, um modelo econômico que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais ocultas de extração, previsão e vendas. Nessa lógica, informações anteriormente difusas ou íntimas (nossa localização, buscas online, redes de relacionamento, preferências de consumo, até mesmo estados emocionais inferidos) são convertidas em “excedente comportamental” (Zuboff, 2019), ativos estratégicos que geram valor preditivo e poder de mercado.
A dimensão geopolítica dessa extração é inegável e profundamente assimétrica. Michael Kwet (2019), por exemplo, documenta como gigantes tecnológicos do Vale do Silício consolidam seu domínio sobre as economias digitais emergentes no Sul Global. Seu exemplo da África do Sul, onde Google e Facebook monopolizam a publicidade online a ponto de serem considerados uma ameaça existencial à mídia local (Kwet, 2019), ilustra um padrão mais amplo: dados gerados localmente em países menos desenvolvidos são capturados e processados, com o valor resultante acumulado predominantemente fora desses territórios, replicando a dinâmica centro-periferia observada no colonialismo tradicional.
Essa relação extrativista remete às análises de Saskia Sassen (2014) sobre as “lógicas extrativas” no capitalismo global contemporâneo, onde não apenas recursos naturais, mas também capacidades sociais e financeiras são retiradas de contextos locais para beneficiar centros globais. No caso do colonialismo de dados, a infraestrutura digital (plataformas, cabos submarinos, data centers) facilita essa nova forma de espoliação, muitas vezes sob um verniz de “conexão” e “desenvolvimento”.
Além disso, como aponta Safiya Umoja Noble (2018) em sua análise sobre algoritmos de opressão, os sistemas alimentados por esses dados extraídos frequentemente codificam e perpetuam vieses raciais e sociais, reforçando desigualdades estruturais de maneira insidiosa.
Portanto, analisar o fenômeno através do “colonialismo de dados” não é apenas uma metáfora, mas um reconhecimento das continuidades nas relações de poder, exploração e desapropriação. Este artigo se propõe a examinar a fundo este conceito, explorando suas intersecções e distinções com noções correlatas como imperialismo de dados, extrativismo de dados, soberania digital e o processo abrangente de dataficação, buscando oferecer uma compreensão mais nítida da geopolítica da informação na contemporaneidade.

Colonialismo de dados e seus fundamentos conceituais
O termo colonialismo de dados refere-se à apropriação massiva de informação pessoal e social por corporações e Estados, de modo análogo às práticas de exploração colonial clássicas. Assim como o colonialismo histórico apropriava terras e recursos humanos, o colonialismo de dados “apropria-se da vida humana para que se possa extrair continuamente dados dela em busca de lucro”.
Poder-se-ia pensar que vivemos em uma nova fronteira digital, mas autores como Couldry e Mejias argumentam que o mundo quantificado atual é “continuação e expansão” do colonialismo e capitalismo antigos. A conveniência do mundo conectado não é gratuita: ela é “paga com vastas quantidades de dados pessoais transferidos por canais obscuros a corporações que os usam para gerar lucro”.
Nesse sentido, o colonialismo de dados estabelece novas relações de dominação, em que cidadãos se tornam sujeitos de uma economia de dados, sob a justificativa de “conexão” ou “personalização”. Analogamente ao colonialismo histórico, que implantava leis e doutrinas próprias ao se apoderar de novos territórios, o colonialismo de dados opera regravando regras digitais por meio da simples extração de dados.
Recentes acontecimentos nos EUA ilustram essa dinâmica: a chamada Department of Government Efficiency (DOGE) de Elon Musk foi acusada de apropriar-se de dados públicos sensíveis em escala inédita. Pesquisadores recentes observam que esse episódio pode ser visto como “a maior apropriação de dados públicos por um indivíduo privado na história de um Estado moderno”, um claro paralelo à terra nullius colonial. Nessa nova lógica, o que se expropria não é terra nem corpos, mas dados — a matéria-prima que sustenta o poder político, econômico e até cultural das grandes plataformas digitais.
Importante destacar que, conforme Mejias & Couldry (2019), trata-se de um “novo colonialismo”, um paralelo com o colonialismo histórico, e não apenas metáfora (Couldry & Mejias, 2019). Em outras palavras, as práticas atuais compartilham as “missões centrais” dos antigos impérios – sobretudo extração e expropriação – replicadas em quatro etapas: exploração, apropriação, expansão e, em último caso, até mesmo “extermínio” de concorrentes ou modos alternativos (Arun, 2025).
O próprio Hadar (2025), num ensaio para o Lawfare, sublinha que Couldry & Mejias argumentam existir uma continuidade entre os antigos impérios coloniais e as plataformas de Big Tech, unindo dimensões informacionais de dominação ao aparato legal e institucional vigente (Hadar, 2025). Nesse contexto, fala-se também em extrativismo de dados para enfatizar que as empresas tecnológicas extraem dados como quem retira minérios: grandes volumes são obtidos com pouca compensação aos indivíduos (Arun, 2025).
Em vez de trabalho escravo em plantações de açúcar (como nos tempos coloniais), hoje algoritmos e sistemas de inteligência artificial “capturam” nossa atividade online e transformam em produtos comerciais – seja publicidade direcionada, decisões de crédito ou recomendações de consumo. Como observado por Kwet (2019), o design da infraestrutura digital segue um padrão colonial: a internet proprietária, serviços centralizados em poucas plataformas e “nuvens corporativas” funcionam como as rotas de exaustão do passado (Kwet, 2019). Plataformas globais espionam usuários, processam seus dados e vendem de volta conteúdos customizados, reproduzindo uma arquitetura de dependência digital (Kwet, 2019).
Além das analogias diretas com a extração de recursos, argumentamos que um elemento crucial do colonialismo de dados reside no que denominamos “Invisibilidade Infraestrutural Colonial”. Este conceito busca capturar como as próprias arquiteturas digitais – as plataformas, os algoritmos de recomendação, os termos de serviço e até mesmo a interface do usuário – são projetadas para naturalizar a extração de dados, tornando-a parte invisível e aparentemente benigna da experiência online cotidiana. A conveniência dos serviços “gratuitos”, a personalização e o engajamento contínuo funcionam como mecanismos que obscurecem as relações de poder assimétricas e a lógica extrativista subjacente, de forma análoga a como infraestruturas coloniais (estradas de ferro, portos) eram apresentadas como progresso, enquanto serviam primariamente à espoliação de recursos para a metrópole. Essa invisibilidade dificulta a percepção da espoliação pelos próprios sujeitos-fonte dos dados, consolidando a dominação digital.
Outro conceito-chave é a dataficação – a conversão de aspectos cada vez mais amplos da vida social em dados quantificáveis. Esta transformação foi destacada por estudiosos de Big Data como Viktor Mayer-Schönberger: o mundo passa de “predizer a realidade com dados limitados” para “redefinir a realidade a partir dos dados” (Mayer-Schönberger, 2013). Com a onipresença de smartphones, sensores e redes sociais, quase toda interação humana é mapeada, registrada e analisada. Assim, cadeias inteiras da economia e esferas da vida pessoal ficam sujeitas à extração de informações.
A vigilância se intensifica: dados de localização, biossinais, comportamentos de compra e até interações faciais enriquecem gigantes de tecnologia e inteligência artificial. Esse quadro reforça o imperialismo de dados – a ideia de que há um domínio global por parte de certos países (especialmente EUA e China) na posse e uso desses dados. Buz (2020) observa que EUA e China, líderes atuais da economia digital, concentram cerca de 90% do valor de mercado das maiores empresas online (Buz, 2020). Em resumo, o colonialismo de dados ocorre quando infraestruturas digitais, dispositivos e redes sociais – dominados por poucos atores internacionais – exauriem as informações de populações mais fracas, mantendo-as dependentes de serviços externos.
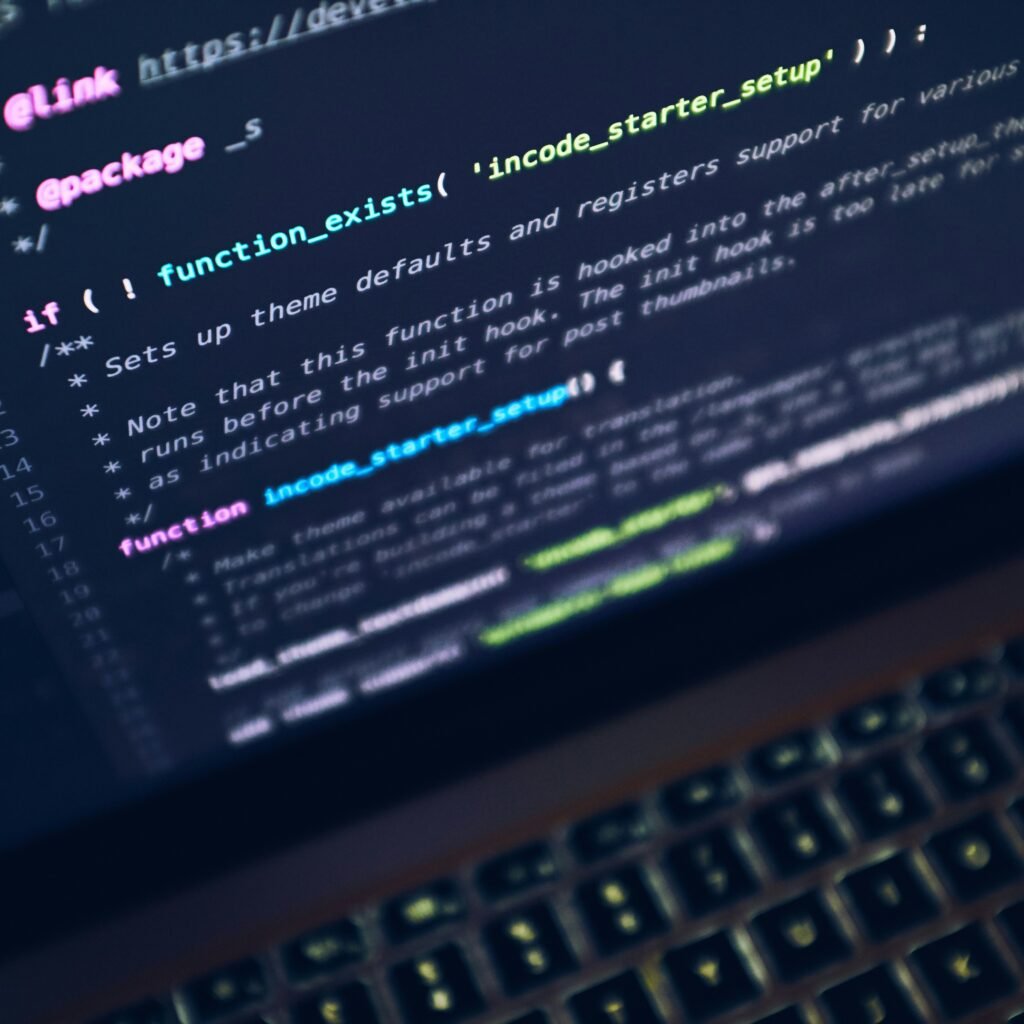
Dataficação, extrativismo e imperialismo de dados
O processo de dataficação leva à transformação de cidadãos em meras “fontes de dados”, em um sentido próximo da “commoditização” do trabalho colonial. Como Zuboff (2019) argumenta ao tratar do capitalismo de vigilância, empresas monopolistas reivindicam experiências privadas como matéria-prima, vendendo de volta previsões e persuasões (Zuboff, 2019). Isso aproxima a noção de dados de um ativo econômico, parecido com recursos naturais – ideia condensada no jargão “dados são o novo petróleo”.
Porém, diferentemente de matéria-prima física, o dado é produzido constantemente pelas próprias pessoas. O “trabalho digital” não assalariado aparece na criação de likes, comentários e cadastros. Essa dinâmica foi chamada de data extractivism por distintos autores: algoritmos e interfaces são projetados para maximizar engajamento e cliques, enquanto as pessoas usuárias recebem em troca serviços muitas vezes gratuitos. Esse modelo tem um viés de acumulação por expropriação similar ao descrito por Marx e Harvey (Marx, 1867; Harvey, 2003) – abocanha-se os dados dos indivíduos sem que eles tenham voz ou participação no valor criado.
Em termos de imperialismo de dados, países cujas empresas tecnológicas exportam serviços e plataformas tendem a exercer influência intensa na governança de dados internacionais. A dependência do Brasil e de muitos países latino-americanos de servidores, aplicativos e “nuvens” sediadas nos Estados Unidos, por exemplo, é comparável a uma situação de domínio neocolonial. Cita-se o relatório da UNCTAD que revela como a América Latina ocupa posição “inferior” na cadeia de valor digital global (UNCTAD, 2021).
Em vez de produção local de tecnologia, muitos países importam soluções prontas, permitindo que valor adicionado e controle dos dados fiquem no exterior. A “internet emprestada” perpetua assim uma assimetria: usuários de satélites brasileiros podem gerar dados no Brasil, mas esses dados fluem para armazenamento e processamento em datacenters no exterior. Entretanto, o extrativismo de dados também ocorre internamente: corporações nacionais dominantes podem coletar os dados de seus próprios cidadãos sem nenhum intercâmbio de valor justo.
No Brasil, por exemplo, grandes bancos e plataformas detêm bases de dados privadas de clientes e, muitas vezes, vendem informações a terceiros ou impulsionam seus próprios produtos (às vezes em concorrência desleal com empresas menores). Esse mercado interno ilustra como o problema é estrutural: a curiosa classe de dados pessoais tornou-se fonte de lucro tanto globalmente quanto localmente.
Soberania digital e regulação de dados
Diante desses desafios, cresce o discurso de soberania digital, que defende que cada país controle o fluxo e o tratamento de dados de seus cidadãos. No Brasil, tem-se avançado politicamente nesse sentido: a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, 2018) reconhece o papel estratégico da informação. Autoridades brasileiras enfatizam que dados são “ativos” do Estado. O presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção (2024), afirmou que “os dados são um ativo que o Estado precisa ter controle e governança sobre” (Assumpção, 2024).
Da mesma forma, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial prevê a criação de uma Nuvem de Governo, visando manter plataformas críticas sob domínio público nacional (Brasil, 2021). Recentemente, a Justiça brasileira deixou claro que empresas de tecnologia estrangeiras (as chamadas “Big Tech”) só podem operar no país se respeitarem as leis locais (Reuters, 2025). Nesses casos, a soberania se articula pela exigência de submissão à legislação nacional, algo comparável às exigências de “componentes locais” impostas em políticas industriais.
Na União Europeia, a soberania digital é buscada por meio de regulação estrita e de iniciativas de infraestrutura própria. A GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados) impõe rigorosos princípios de minimização e consentimento ao uso de dados, restringindo a liberdade dos gigantes de explorar indiscriminadamente informações pessoais (Laier e Romani, 2024).
Em 2024, o Tribunal de Justiça da União Europeia reforçou que o Facebook não pode usar livremente todos os dados pessoais para publicidade sem tempo ou uso limitado, invocando o princípio de data minimization do GDPR (Laier e Romani, 2024). Além disso, a UE investe em alternativas ao modelo americano: o projeto GAIA-X, por exemplo, visa criar um ecossistema europeu de nuvens de dados que reduza a dependência de AWS, Google Cloud e Microsoft. Conforme relatado por Foo Yun Chee (2022), a comissária antitruste Margrethe Vestager disse que Gaia-X procura “reduzir a dependência do bloco europeu dos gigantes do Vale do Silício” e gerar mais competição local (Chee, 2022).
Recentemente, até empresas americanas anunciaram soluções específicas para esse contexto: a Amazon Web Services planejou uma Nuvem Soberana Europeia dedicada a governos e setores regulados, reconhecendo a demanda por autonomia dos dados na região. Em conjunto, esses esforços regulatórios ilustram o conceito de soberania digital: manter os dados sob custódia e jurisprudência nacional ou regional, buscando equalizar a relação assimétrica com provedores estrangeiros.
Na China, a soberania digital é uma pedra angular da política tecnológica. O país adotou leis rígidas (como a Lei de Segurança de Dados e a Lei de Proteção de Informações Pessoais de 2021) que exigem armazenamento local de “dados sensíveis” e controlam estritamente seu acesso externo. Pequim promove ativamente a ideia de ciber-soberania, defendendo seu modelo de internet controlada como alternativa ao modelo ocidental.
No plano internacional, iniciativas chinesas (por exemplo, a “Frente Digital da Nova Rota da Seda”) acompanham projetos de infraestrutura visando estender sistemas de vigilância e padrões chineses para além de suas fronteiras. Esses movimentos, somados ao domínio de empresas tecnológicas chinesas (como Huawei, Alibaba, Tencent), exemplificam outro aspecto do imperialismo de dados: não apenas a coleta de dados próprios, mas também a exportação de um modelo de controle e tecnologia para outros países, em especial no Sul Global. Assim, a soberania digital chinesa serve tanto para proteger a reserva de dados domésticos quanto para projetar influência digital no exterior.
Casos práticos e exemplos regionais
A LGPD definiu padrões para uso de dados pessoais, mas sua aplicação ainda esbarra em questões de extração por big tech. Em 2024, a ANPD exigiu que o Facebook e o Instagram informassem explicitamente aos usuários brasileiros como dados seriam usados para treinar Inteligência Artificial (Laier e Romani, 2024; Reuters, 2025). A agência chegou a suspender temporariamente um novo termo de privacidade da Meta (antiga Facebook) por achar que violava regras de consentimento. Esse episódio mostra o esforço brasileiro de controlar dados locais e proteger direitos individuais.
Na esfera jurídica, o Supremo Tribunal Federal brasileiro reafirmou a necessidade de cumprimento das leis nacionais pelas plataformas: o ministro Alexandre de Moraes declarou que grandes empresas estrangeiras “só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira” (Reuters, 2025), em alusão à suspensão do Twitter/X em 2022 por descumprimento de ordens judiciais.
Em paralelo, há também preocupações com espionagem estrangeira de dados, empresas de telecomunicações chinesas, por exemplo, já enfrentaram suspeitas globais quanto à segurança de dados em suas redes (caso Huawei e 5G). Esses exemplos evidenciam que, embora o Brasil ainda dependa de serviços internacionais, organismos de controle estão atentos para impor limites e exigir soberania nos dados nacionais.
No caso dos EUA, vive-se um paradoxo: grande parte do problema do colonialismo de dados parte de empresas americanas, mas o país em si possui legislação fragmentada quanto à proteção de dados. Não há uma lei federal ampla de privacidade como a europeia; as normas ficam a cargo de estados e setores específicos. Isso confere às gigantes de tecnologia grande liberdade interna, o que impulsiona ainda mais sua acumulação de dados em todo o mundo. Os EUA têm apenas alguns mecanismos indiretos de soberania digital, como a disputa em torno do Cloud Act, que permite ao governo americano acessar dados de usuários armazenados no exterior por empresas sob sua jurisdição.
A ausência de uma postura regulatória forte é parte do cenário de que frequentemente, empresas baseadas nos EUA alegam ter direito de coletar dados sem fronteiras, numa espécie de visão ‘infantil’ de liberdade tecnológica global. Contudo, repentes de mudança surgem. No final de 2023, o novo acordo de transferência de dados UE-EUA (EUA-Europe Data Framework) tentava atualizar regras após os vazios do Privacy Shield, mostrando como o México com o Brasil se alinham às normas do GDPR. Ainda assim, comparado com atores mais regulados, o enfoque americano foca em inovação rápida, deixando boa parte da soberania digital para contrapontos estrangeiros e sanções antitruste ocasionais.
Além da GDPR e do GAIA-X já citados, a UE adota outras medidas. Autoridades europeias investigam e multam operações de coleta de dados por grandes firmas: por exemplo, a Comissão Europeia prepara multa recorde à Meta por exportação indevida de dados de usuários europeus a servidores nos EUA (Laier e Romani, 2024; Reuters, 2025). Também foi aprovado um pacote chamado Digital Markets Act (DMA) que obriga plataformas consideradas “guardião” a abrir dados a concorrentes e usuários, reduzindo seu controle exclusivo.
Países como França e Alemanha consideram importantes iniciativas nacionais de soberania: foi criado um sistema de identidade digital europeu e discute-se, por exemplo, ter “ferrovia” para dados sensíveis militares/estratégicos sob jurisdição da OTAN. Casos pontuais exemplificam a mentalidade: recentemente, autoridades francesas avaliaram proibir o aplicativo chinês TikTok, citando riscos à segurança de dados dos cidadãos europeus. Dessa forma, a UE procura proteger suas “colônias de dados” por meio de regulação exigente e incentivos a alternativas locais.
Como já mencionado, a China implementa controle rígido do fluxo de dados. Por exemplo, dados gerados na China (ou coletados de cidadãos chineses por empresas) estão sujeitos às leis chinesas de segurança e proteção, que em muitos casos vetam exportação sem aprovação governamental. Por outro lado, empresas chinesas no exterior, como a Huawei Mobile Services ou o app de mensagens WeChat, podem coletar informações de usuários internacionais e, conforme os críticos, enviar parte dessas informações para servidores na China, onde a jurisdição chinesa seria aplicável.
Embora Pequim negue intenções hegemônicas, essa assimetria lembra práticas coloniais: um sistema para coletar dados de populações externas sobre o qual o Estado chinês reivindica soberania. Ademais, no cenário global, a China vende tecnologias de vigilância (câmeras de reconhecimento facial, sistemas de crédito social digital, chips de IA) a outros países em desenvolvimento. Há relatos de financiamento de infraestrutura de internet em nações africanas sob padrões chineses; embora não sejam monopólios de fato, criam dependência de fornecedores chineses. Esses exemplos ilustram um caso singular de “colonialismo digital”: não de deslocar povos, mas de expandir um modelo de controle e exploração de dados próprio.
Conclusão
O colonialismo de dados revela-se como uma extensão do colonialismo clássico ao ambiente digital global. Empresas e Estados hegemônicos acumulam vantagens extraordinárias ao extrair dados massivos de populações pelo mundo, reproduzindo assim desigualdades históricas e criando novas formas de dependência.
Como vimos, esses processos combinam coleta de dados pessoais e de infraestrutura digital de modo muitas vezes invisível ao cidadão comum, mas com impactos profundos. Diferentes regiões do mundo adotam estratégias diversas: enquanto países exportadores de tecnologia lutam para moldar regras globais (antes liderados por EUA, agora também pela China), nações importadoras mais fracas reivindicam políticas de soberania digital e proteção.
No Brasil, medidas como a LGPD e ações judiciais recentes sinalizam a preocupação com a “colonização” dos dados nacionais; na Europa, regulações duras e investimentos em nuvem própria são formas de resistir ao domínio externo; a China avança no seu próprio “muro” de dados, impondo controle interno e um modelo exportável.
Esse panorama multifacetado sugere que não há solução simples: a legislação deve se atualizar continuamente e deve haver cooperação internacional para evitar abusos. Para operadores do Direito, os desafios incluem equilibrar direitos individuais (privacidade, autodeterminação informacional) com interesses econômicos e soberania nacional, além de garantir que a exploração de dados não viole valores fundamentais.
Diante deste cenário complexo, as respostas focadas apenas em soberania estatal e regulação, embora essenciais, podem ser insuficientes se não acompanhadas por um processo que propomos chamar de “Reapropriação Cognitiva dos Dados”. Este conceito vai além do controle jurídico ou técnico sobre os fluxos de informação, apontando para a necessidade de uma mudança fundamental na percepção e valoração dos dados pelos indivíduos e comunidades. Trata-se de fomentar uma consciência crítica sobre como nossos rastros digitais são gerados, apropriados e monetizados, desafiando a narrativa dominante que os reduz a meras commodities ou externalidades da vida conectada. A Reapropriação Cognitiva envolve desenvolver não apenas literacia digital, mas uma ética da informação pessoal e coletiva, onde os dados são compreendidos como extensões da identidade, da autonomia e da memória social, cuja gestão deve primar pela dignidade e pelo bem comum, e não apenas pelo lucro ou controle. Somente através dessa mudança cognitiva profunda, aliada às estruturas regulatórias, poderemos almejar uma verdadeira descolonização digital.
Em última análise, descolonizar os dados significa criar um arcabouço no qual a coleta e exploração de informações sejam transparentes, consentidas e reciprocamente benéficas, respeitando a autonomia de cada sociedade.
O debate permanece aberto, mas é inegável que essa dinâmica requer respostas firmes – tanto pelos fóruns jurídicos quanto pelas políticas públicas – para evitar que o futuro digital se assemelhe a mais um capítulo de dominação colonial, agora em forma de algoritmos.
REFERÊNCIAS
ARUN, Chinmayi. ‘Data Colonialism’ and the Political Economy of Big Tech. Lawfare, 7 mar. 2025. Disponível em: https://www.lawfaremedia.org/article/data-colonialism–and-the-political-economy-of-big-tech. Acesso em: 25 abr. 2025.
BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 ago. 2018.
BRITO, Ricardo. “Brazil prosecutors open investigation into Cambridge Analytica”. Reuters, 22 mar. 2018. Disponível em: https://www.reuters.com/article/idUSKBN1GX39Z . Acesso em: 28 abr. 2025.
BUZ, Marcelo. “Colonialismo digital”. Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, 3 abr. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/iti/pt-br/centrais-de-conteudo/opiniao-do-diretor-presidente/colonialismo-digital . Acesso em: 20 abr. 2025.
COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises A. The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford: Stanford University Press, 2019.
COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises A. The Costs of Connection: How Data is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford: Stanford University Press, 2019.
HU, Yiming Ben. “China’s Personal Information Protection Law and Its Global Impact”. The Diplomat, 20 ago. 2021. Disponível em: https://thediplomat.com/2021/08/chinas-personal-information-protection-law-and-its-global-impact/ . Acesso em: 28 abr. 2025.
KWET, Michael. “Digital colonialism is threatening the Global South”. Al Jazeera, 13 mar. 2019. Disponível em: https://www.aljazeera.com/opinions/2019/3/13/digital-colonialism-is-threatening-the-global-south . Acesso em: 22 abr. 2025.
LAIER, Paula Arend; ROMANI, André. “Meta vai informar brasileiros como usa dados pessoais para treinar IA”. Reuters, 3 set. 2024. Disponível em: https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/meta-inform-brazilians-how-it-uses-their-personal-data-train-ai-2024-09-03 . Acesso em: 24 abr. 2025.
LE MONDE. “China rejects claim it bugged headquarters it built for African Union”. Le Monde, 30 jan. 2018. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2018/jan/30/china-african-union-headquarters-bugging-spying. Acesso em: 28 abr. 2025.
MANNION, Cara. “Data Imperialism: The GDPR’s Disastrous Impact on Africa’s E-Commerce Markets”. Vanderbilt Journal of Transnational Law, v. 53, n. 2, p. 685–725, 2021. Disponível em: https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol53/iss2/6 . Acesso em: 28 abr. 2025.
NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. New York: New York University Press, 2018.
REUTERS. “Musk’s DOGE agents access sensitive government personnel data, Washington Post reports”. Reuters, 6 fev. 2025. Disponível em: https://www.reuters.com/world/us/musks-doge-agents-access-sensitive-opm-personnel-data-washington-post-reports-2025-02-06/ . Acesso em: 28 abr. 2025.
SASSEN, Saskia. Expulsões: brutalidade e complexidade na economia global. Tradução Cícero Araújo. Rio de Janeiro; São Paulo: Paz & Terra, 2016.
U.S. CONGRESS. Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act). Public Law 115-141, 23 mar. 2018. Disponível em: https://www.congress.gov/115/plaws/publ141/PLAW-115publ141.pdf . Acesso em: 28 abr. 2025.
ZUBOFF, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019.



